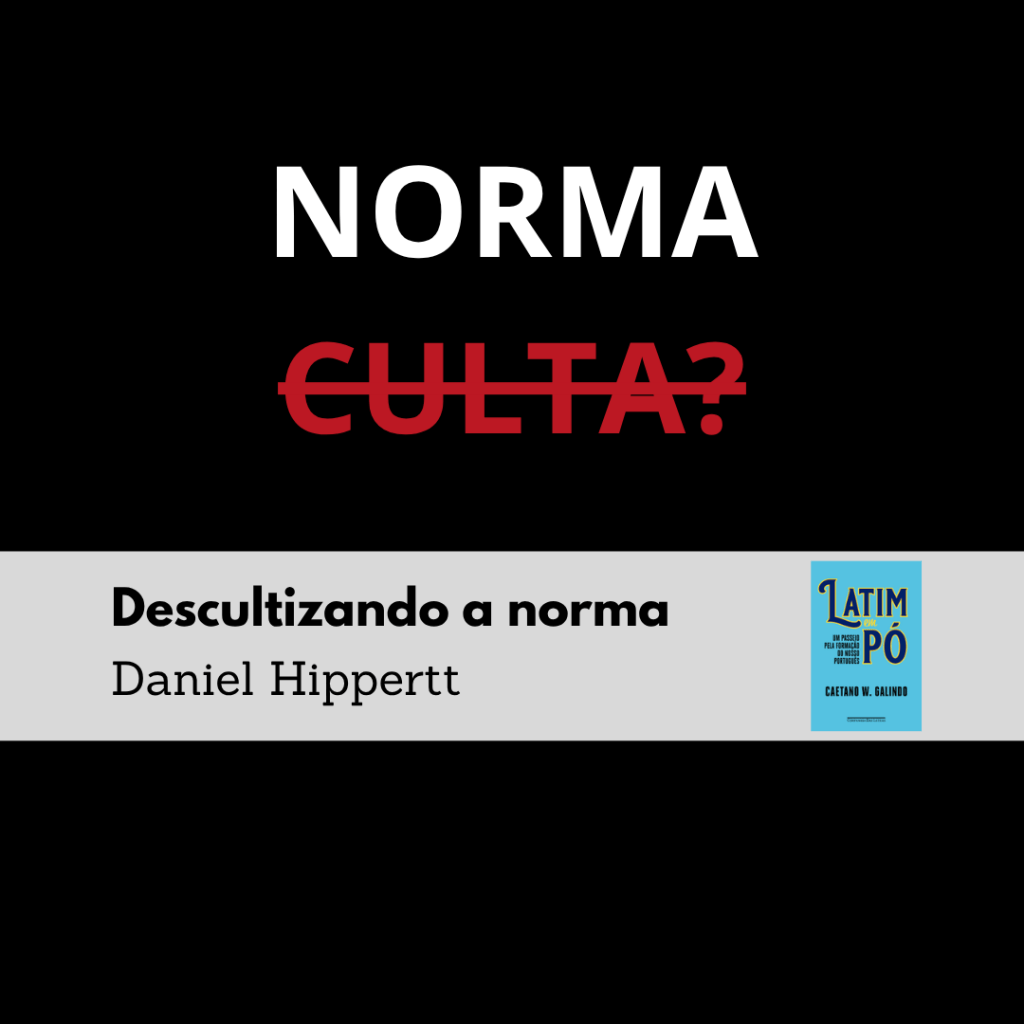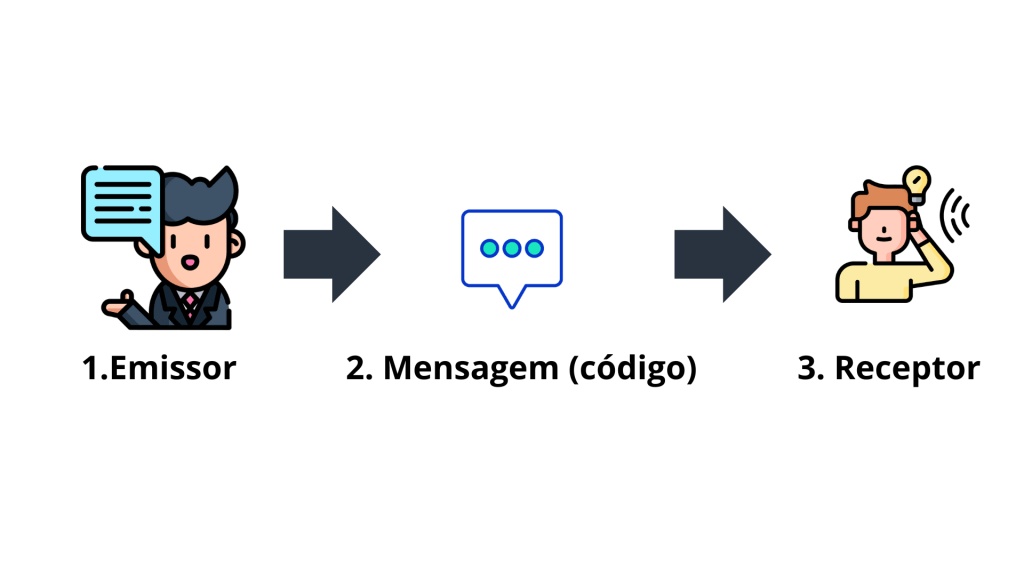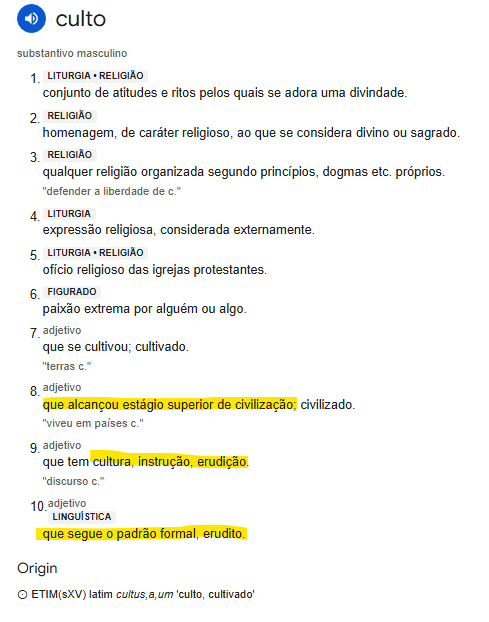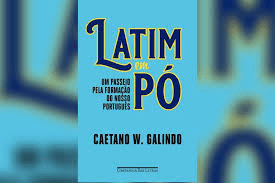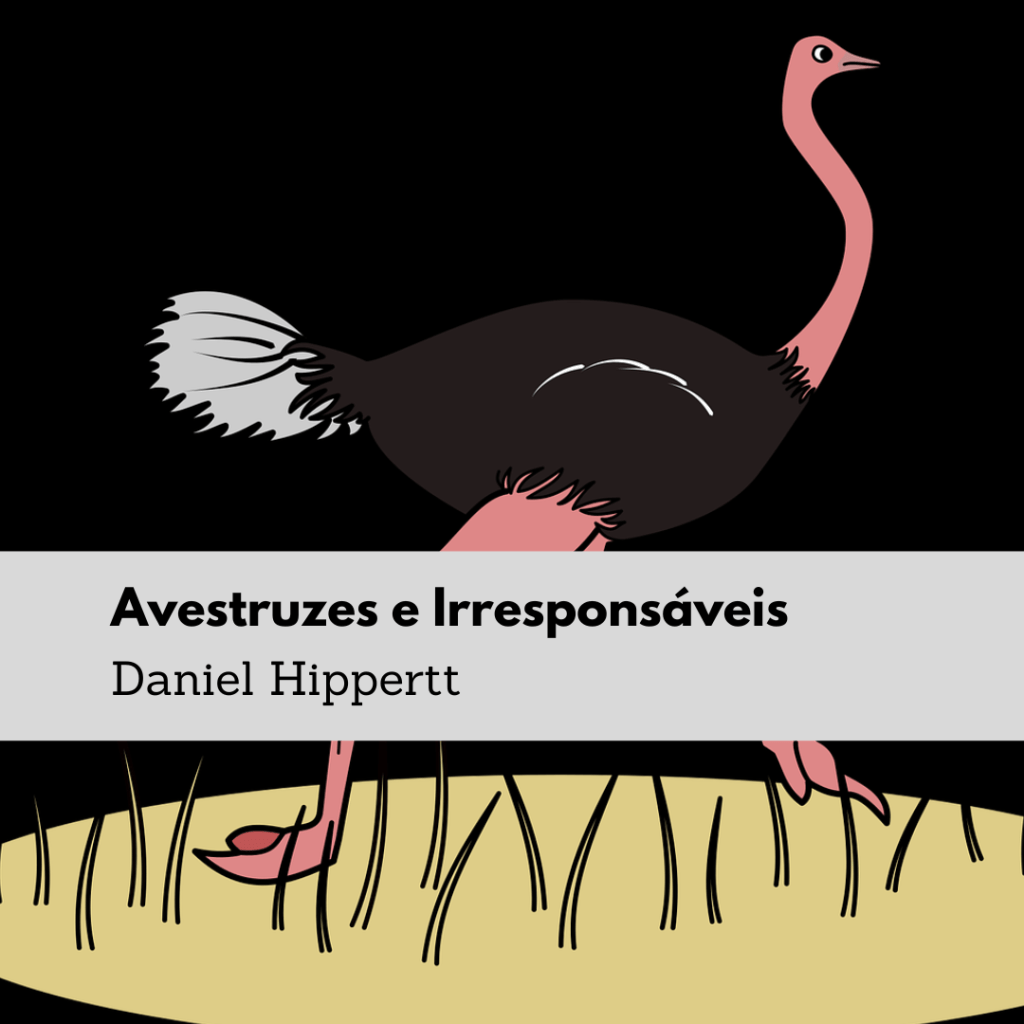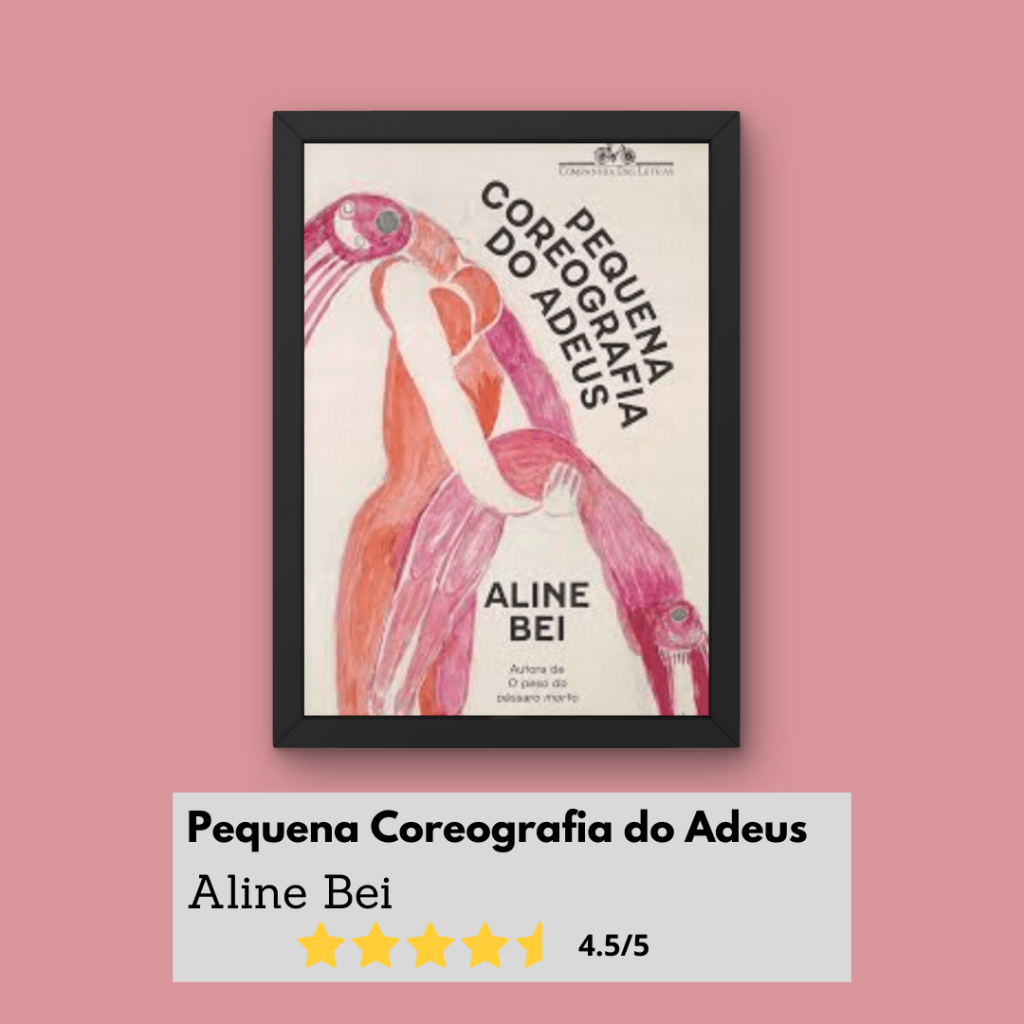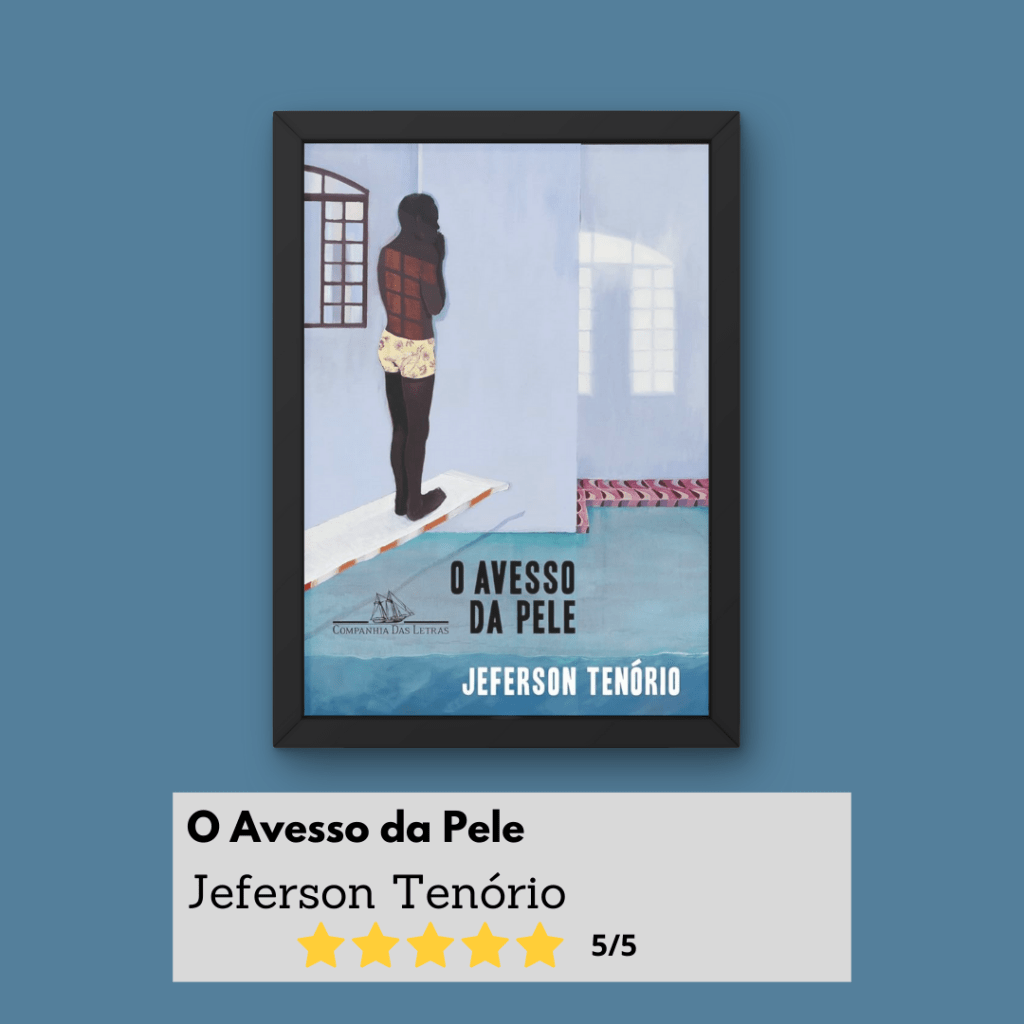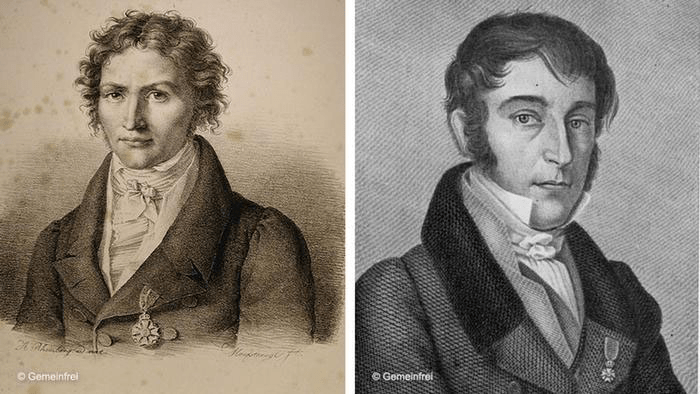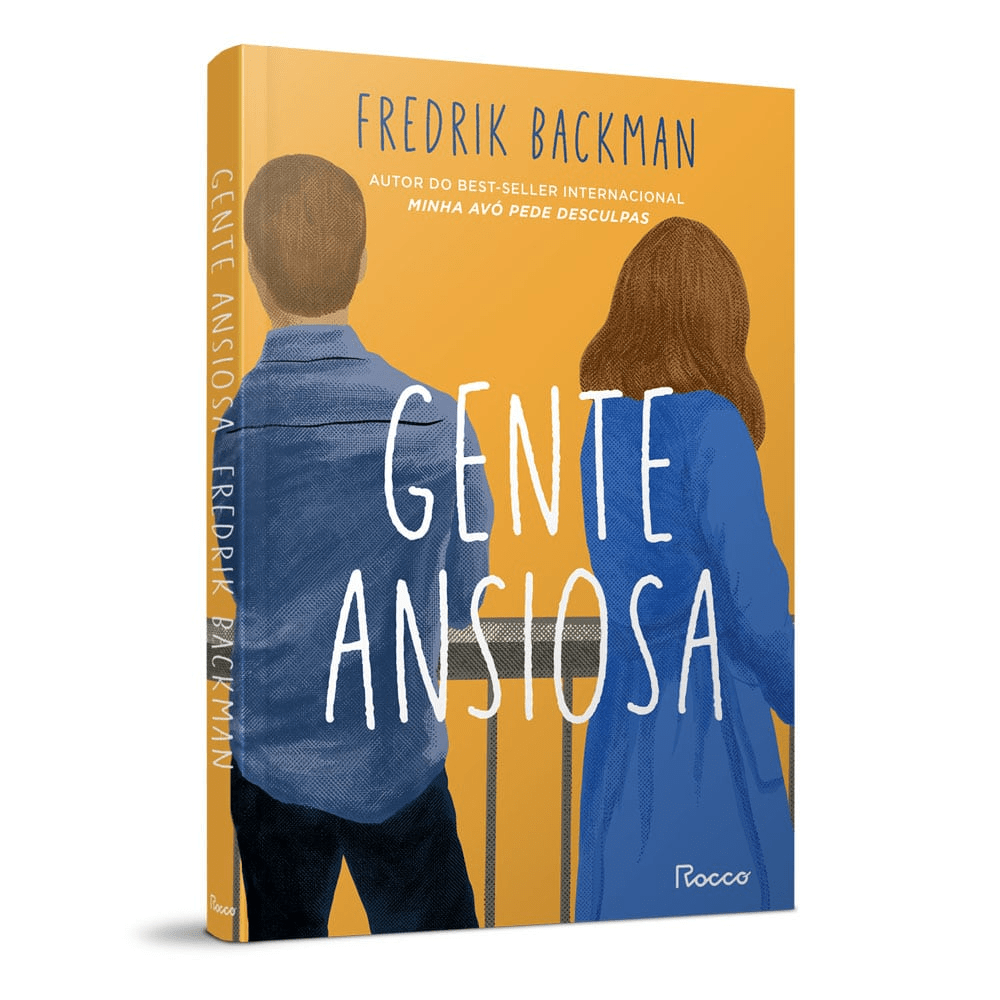Eu pedi minha mulher em casamento. Tem vídeo aqui, caso você queira ver.
Precisamente na data do nosso terceiro aniversário de namoro.
Depois de quase três anos morando juntos (o que para mim já significa estar casado, por sinal).
Foi simples. Não teve pompa, champagne estourado, viagem pra ilha paradisíaca, ou jantar em restaurante com estrela Michelin. Nada disso.

Foi na sala de casa. Depois de um jantar que eu mesmo cozinhei. Na nossa intimidade, dentro da nossa rotina, em um espaço seguro.
Sem serviço de garçom volante, sem ninguém ao redor, sem salva de palmas e olhares de transeuntes.
Foi nosso. Só nosso. Único, lindo, do nosso jeito.
E agora, depois de feito o pedido, é fácil falar assim. Não existe profissão mais tranquila do que engenheiro de obra pronta.
Eu já estava pensando em como faria esse pedido há algum tempo. Amo tanto alguém que quero envolver até o Estado nessa relação, e agora? Como dizer isso de uma maneira memorável?
Todas as ideias que eu tinha eram descartadas.
Justamente porque não eram tão pomposas, tão maquiadas e instagramáveis.
Eu tive que lutar contra esse pensamento social – emburrecedor, por sinal – de que um pedido de casamento em Mykonos agrega mais valor do que um feito dentro do lar. Um conflito interno real, que resistia.
Eu não quero pagar de moralista, ou diminuir quem se ajoelha frente à parceira nas Bahamas. Não é essa a ideia.
Eu acho que é super legal, por sinal.
Eu só tive mesmo que lutar contra a ideia de que isso representaria um pedido de casamento perfeito para nós dois.
Só porque a sociedade imprime que quanto mais dinheiro investido, maior a importância do pedido.
E aí eu entendi que eu já estava preparado para assumir a responsabilidade de um matrimônio, de constituir uma família com alguém, e que perfeito mesmo é que o pedido seja feito, independente de quantos likes ele vai te gerar na rede social.
Mas foi uma construção, ou melhor, uma reconstrução de pensamento que me levou a isso. Porque eu tenho essa mania de idealizar cenários a ponto de torná-los inalcançáveis. Inatingíveis. Sempre aumentando um ponto ao conto. Não basta ser em Bora Bora. Tem que ser lá, com show particular do Caetano Veloso, chegada de barco guiada por golfinhos e aliança entregue por um par de unicórnios albinos gêmeos.
O irrealizável se transforma em procrastinação e ansiedade. É um modus operandi familiar e adoecido.
E burro, gente. Burro mesmo.
E esse é o tipo de coisa que a gente só percebe depois. Quando se decide entregar o perfeito possível, que na verdade não era perfeito, até se tornar.
Porque eu tenho certeza que meu pedido de casamento foi único, emocionante, memorável e que vai acompanhar as nossas lembranças para sempre. Vamos contar para filhos e netos, daquela vez que mamãe sentou na rede e papai mostrou um vídeo com uma serenata mal cantada – e vamos rir, nos emocionar.
Porque o mais importante ali era o amor. É o amor. Que, diga-se, muitas vezes não está presente em pedidos transatlânticos, com tapetes vermelhos e um orçamento hollywoodiano.
Não há nada mais extraordinário do que um homem comum construindo uma família comum.